LIRISMO, TRAGÉDIA E REALISMO
«Contrariamente à crença geral, a verdade não se impõe por si mesma. O erro que entra no domínio público permanece nele para sempre. As opiniões transmitem-se, hereditariamente, como as terras. Constrói-se nelas. As construções acabam por formar uma cidade - e ditar a história.» Henri Bergson (1859-1941)
Há algumas décadas, Jacinto do Prado
Coelho (Originalidade da Literatura
Portuguesa, ICALP, 1977) apontava o lirismo e a sátira como dois dos
principais traços distintivos da Literatura Portuguesa e lamentava a escassez
de narrativas de grande fôlego, embora considere que Portugal tem “bons autores
de ficção”. O lirismo cruza-se com o saudosismo e cria uma ambiência mental inclinada
para o subjectivismo e avessa à acção (o sentir que se sobrepõe ao agir). A acção
é de facto o elemento estruturante da narrativa, tal como o subjectivismo e as
emoções são a força vital do lirismo. Esta tendência para o lirismo e o
subjectivismo seria um reflexo do próprio “ser português”. Cada literatura
reflecte o povo que a cria. Mas a par da “literatura lacrimejante”, surge a
sátira e a comédia, como contraponto ao carácter depressivo e também como
tendência natural do temperamento português. Vista deste modo, a Literatura
Portuguesa quase parece bipolar: o autor / leitor chora a beleza triste de um
episódio amoroso e / ou trágico e, logo a seguir, tem de contar uma anedota
para equilibrar as emoções. Hoje a comédia e o humor estão por todo o lado, no stand up, nos programas televisivos,
mesmo nos de comentário e crítica, e em qualquer mesa de café. Quem não sabe
contar uma anedota, às vezes absurda e até ofensiva, é enfadonho e pessimista,
não tem sentido de humor. Quem não se comove com um belo poema de amor é um insensível
sem coração. Estas são dicotomias radicais mas não distantes da realidade.
Jacinto do Prado Coelho nota também a
“escassez do trágico” na Literatura Portuguesa. Como verdadeiramente trágicas,
e seguindo Ruben A., aponta apenas três obras: Inês de Castro (sem nomear explicitamente a Castro de António Ferreira ou outra), Frei Luís de Sousa (Almeida Garrett) e algumas “páginas da História Trágico-Marítima” (Bernardo
Gomes de Brito). Mais adiante, seguindo Miguel de Unamuno, acrescenta Camilo
Castelo Branco, que “exalta aquele sentido trágico da existência”. O trágico
genuíno tende a esbater-se e o que fica é apenas uma aproximação à tragédia: «(…) as arestas do trágico tendem a
esbater-se, na literatura portuguesa, em cambiantes do sentimental ou do
elegíaco ― para não falar no melodrama».
A lenda dos amores de Pedro e Inês é em si
mesma genuinamente trágica, lírica e subjectiva; bebe a inspiração na História
mas afasta-se dela. E, no entanto, quase todos os que apreciam a tragédia de
Pedro e Inês tomam a lenda como história completamente factual. A História
autêntica é muito mais trágica e, por isso mesmo, incompatível com o lirismo
intimista que pode dilacerar a alma mas deixa o corpo vivo para continuar a
experimentar a dor. A tragédia não recorre a subterfúgios, apresenta a crueza
da dor e da morte que nenhuma “justiça” pode redimir. Talvez por isso, a lenda
continua tão viva, como forma de tentar fazer “justiça” ao longo do tempo. Quem
não se comove com os amores trágicos de Pedro e Inês, tal como a Literatura os
apresenta, deve ser de facto insensível. Neles há vida autêntica, lirismo e
tragédia. Apesar do apego persistente a esta tragédia específica, que já conta
665 anos, Jorge Dias, citado por J.P. Coelho, afirma: «O Português não gosta de ver sofrer e desagradam-lhe fins demasiado
trágicos». Os criadores da lenda e os leitores que solicitaram a introdução
da cena da coroação do cadáver de D.ª Inês na Nova Castro, de João Baptista Gomes, contrariam esta visão.
Cada leitor ou espectador é, antes de
mais, um ser humano que sente e busca emoções. O amor transcendente e sem
barreiras de Pedro e Inês é muito mais mito e utopia do que História e, por
isso mesmo, é também mais um reino de emoções do que uma sucessão de actos. Na
vida real, poucos seriam os que aplaudiriam a morte de Inês, mesmo que ela
fosse uma conspiradora maquiavélica e dissimulada. Na vida real, poucos seriam
os que defenderiam o frio homicida que arranca corações. Na vida real, poucos
seriam os que fariam a apologia da traição e dos traidores, pois toda a
história de Pedro e Inês é fundada neste alicerce decadente e destrutivo. Na
vida real, poucos seriam os que defenderiam a felicidade individual em
detrimento do bem e soberania do próprio país. Mas perante a imagem idealizada
de um amor maior do que o poder político, do que o interesse nacional e do que
a própria vida, os factos tornam-se irrelevantes ou são interpretados com
outros olhos. As emoções íntimas e subjectivas têm estas nuances contraditórias; são capazes de tolerar e justificar a
cobardia, a traição, o horror, o ódio, se eles forem meios para atingir um “fim
maior”: o amor, humano e divino, terreno e imortal. E nenhum espectador se
sente culpado por sentir empatia, mais ou menos profunda, com os amantes
trágicos; nem aqueles que jamais agiriam como eles, nem os que os consideram apenas
um símbolo do excessivo sentimentalismo nacional, nem os que vêem neles
sublimes heróis trágicos, nem aqueles que simplesmente sentem, interiorizam e
partilham tudo o que vêem, lêem ou ouvem.
A maior parte dos receptores e
transmissores populares ao longo dos séculos tem muito deste último grupo, o
dos que sentem tudo e tornam suas todas as histórias. Se não fossem estes, a
lenda nunca se construiria, toda a poesia amorosa seria uma coisa árida e os
escritores eruditos veriam a sua fantasia e inspiração sistematicamente
destruída pela racionalidade, pela História e pelas exigências dos leitores de
cada época. Mas nenhum autor passa incólume pelo seu tempo; cada vez que a
história de Pedro e Inês foi reescrita, apesar de manter uma dose mais ou menos
elevada e intemporal de lirismo trágico, assimilou o espírito de cada época, foi
metamorfoseando a Lenda e a História.
Enquanto, até meados do século XIX, a
figura principal continuou a ser D.ª Inês, vista como vítima indefesa e heroína
trágica, a partir de meados desse século, D. Pedro assumiu muitas vezes o
protagonismo (ex. António Patrício, Pedro
o Cru, drama em 4 actos, 1918; Pierre
de Portugal, tragédie en cinq actes par Lucien Émile Arnault,
1827), em grande medida devido ao avanço nos estudos historiográficos que já
não permitia aos mais eruditos alimentar a lenda de forma tão ingénua. A
História não mostra um D. Pedro imaculado e justo, mostra um ser humano com uma
personalidade forte, com muitos excessos e máculas; vícios e virtudes passaram
a coexistir na personagem e as abordagens tornaram-se menos ingénuas e
facciosas. Já no século XX, houve até quem, finalmente, tenha feito de D.ª
Constança (ex. Eugénio de Castro, Constança,
1900; A Morte de Constança, poema,
1902), a heroína trágica, porque de facto foi ela a primeira vítima real desta
tragédia. Mais recentemente, Isabel Machado publicou Constança – A Princesa Traída por Pedro e Inês (A Esfera dos
Livros, 2015).
Até ao presente, foram escritas centenas de obras sobre a lenda de Pedro e Inês, em vários lugares, tempos e línguas. A história ficou lá atrás, a lenda não morre, não morre Pedro e Inês nem acabam os amores trágicos. Na bibliografia indico algumas dessas obras (literárias, teatrais, musicais, iconográficas) com alguns comentários, notas ou meras interpretações pessoais.



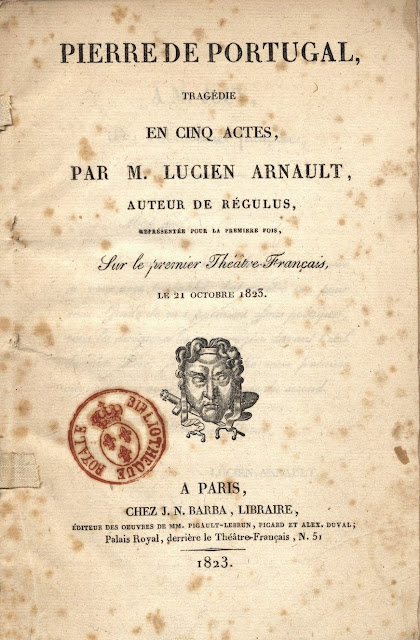




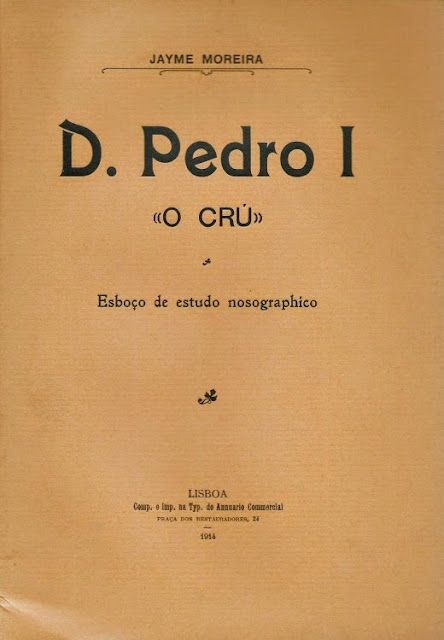

Sem comentários:
Enviar um comentário